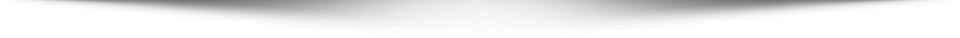Ricardo Soares*
Você não sabe o que é ficar olhando bagos de feijão cru afundarem num copo d’água. Não se trata de um exercício de abstração, mas de ínfimas parcelas da refeição de uma família que afundam em um copo com sentido muito mais amplo do que pode imaginar o incauto leitor.
O ano é provavelmente o último da década de 70 do século 20 e eu tinha conhecido jovens que pareciam iguais a mim. Tendo conhecido esses iguais soube de cara que eu jamais seria igual a muitos pois existiam sim os “diferentes” como eu e eles. Jovens que vinham de destinos diversos, mas que se sentiam estranhamente solitários, “diferentes”. Após nosso encontro passamos então a ser solidários acima de tudo. Solidários no estranhamento e no entranhamento com qualquer coisa que se assemelhasse a palavra escrita. Fazíamos agora parte de uma confraria que um ano antes sequer sabíamos que existia.
Na minha tosca tentativa de ser um poeta relevante usei mais de uma vez a imagem dos bagos de feijão afundando num copo d’água pois esse ritual noturno acompanhava sempre a pós-degustação do jantar frio que minha mãe deixava sobre a mesa da cozinha e eu encontrava quando chegava tarde da noite em casa. Ao lado do meu prato vazio sempre ficava uma minúscula esteira de vime onde minha mãe já havia separado o feijão “escolhido” para o dia seguinte. Então, naquele momento pós janta, tarde da noite, eu jogava meia dúzia de bagos dentro de um copo d’água e o gesto sempre me evocava lembranças remotas que eu imaginava ter. Mas aos 16, 17 anos ninguém tem lembranças muito remotas.
Sinto frio toda vez que lembro dessas imersões. Talvez porque eram feitas em noites de inverno, mas tudo pode ser apenas uma suposição minha. Só sei que sinto frio e ainda escuto meu pai tossir no quarto de cima mergulhado no seu décimo sono. Só sei que olho com tristeza as inúmeras manchas de umidade que estão na parede do corredor que sai da cozinha e vai para a sala. Manchas das quais minha mãe se envergonha talvez porque sejam um contundente atestado de nossa pobreza pois meu pai não tem dinheiro pra arrumar aquilo.
Também me lembro que logo após essas manchas e o corredor, em algum momento localizado entre o fim da infância e o começo da adolescência havia uma árvore de natal com metade das bolas destruídas, resultado de um acesso de fúria do meu pai. Minha mãe, sabe-se lá porquê, deixou os vestígios do embate pendurados naquela triste árvore até o dia de Natal quando tudo foi arrumado.
Logo após a árvore de Natal, reinando soberano no meio da sala, o belo, lustrado e imponente piano de madeira cor de vinho que atravancava tudo e no qual algumas vezes minha mãe executava tímidas notas de Franz Liszt como se não estivesse tocando para ninguém. O piano ficou por ali muitos anos, herdado de uma tia de minha mãe, casta pianista, até que foi passado nos cobres para aliviar uma das inúmeras situações de débâcle financeira que a família enfrentou.
Ouço o som do piano, ouço a tosse do meu pai, ouço de manhã a voz de Vicente Leporace num programa de rádio chamado O Trabuco, sinto o cheiro do café, do pão torrado, algumas vezes também dos ovos mexidos, ouço minha mãe chorando, ouço o pio do canário belga pedindo comida e do filtro de barro pingando a água potável. Sons e cheiros que se fundem nesse dia-noite onde os bagos de feijão afundando lentamente num copo d’água são como as batidas do metrônomo, aquela espécie de relógio esquisito que mede o tempo do andamento musical que mamãe sempre usava quando tocava para si mesma.
Toda essa evocação pianística não combina com o cenário cinzento da enorme baixada onde a gente morava, quase sempre coberta de fumaça fabril de muitas chaminés que castigavam os brônquios de minha mãe. Liszt com galpões industriais definitivamente não combinam. Mas é assim que vejo os bagos de feijão afundando num copo d’água. Uma bizarra sinfonia que mistura música clássica com cheiro de benzeno, manchas de umidade com os apitos do guarda noturno, remédios de bronquite com receitas de simpatias e beberagens que curariam de mau olhado a espinhela caída.
As toalhas na mesa daquela cozinha eram sempre as mais puídas, mais manchadas, mais surradas. Mais familiares impossíveis também. Eu conhecia a história de cada uma daquelas manchas e de como foram vãs as tentativas de limpá-las. Uma delas foi feita na noite em que soubemos da morte de minha avó materna, a outra quando se soube que não havia mais dinheiro para pagar a prestação da casa própria. Uma terceira quando meu pai perdeu o emprego pela enésima vez e ainda uma outra quando ele descobriu ter um quisto gigante no cóccix o que demandaria uma cirurgia cara para tirar a tranqueira.
Como hoje eu já sabia que manchas nas toalhas de mesa contam a história de uma família. Mas não refletia que aquela família seria provisória, que logo se desmancharia e deixaria os bagos de feijão como remotas lembranças de um tempo onde os Irmãos Coragem andavam pelo sertão da televisão e a igreja da rádio Record promovia missas lindas para Nossa Senhora da Aparecida que em que pese sua enorme e propalada força resolvia, pelo menos naquele momento, dar as costas aos pedidos lá de casa. Precisávamos de remissão. Todos nós.
Ricardo Soares é jornalista, roteirista e escritor. Publicou 9 livros, o mais recente Devo a eles um romance à venda no site da editorapenalux.com.br
Newsletter
Você quer receber notícias do domtotal em seu e-mail ou WhatsApp?